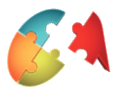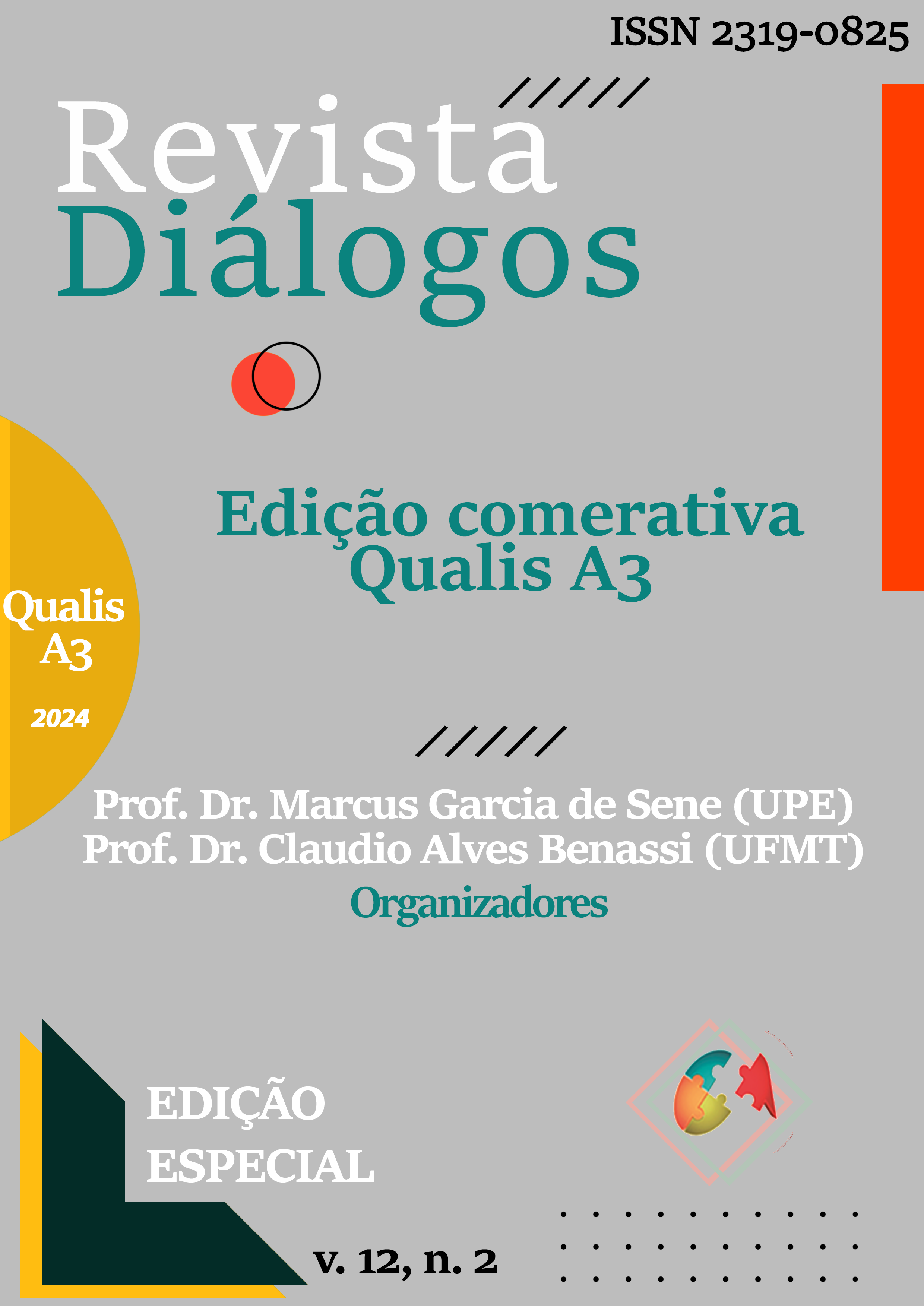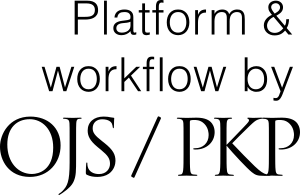Compreendendo a linguagem inclusiva: o que é e para que(m) serve
Palavras-chave:
Linguagem inclusiva, Sociedade, Identidades, Pesquisa bibliográficaResumo
Neste artigo, tratamos da emergência da linguagem inclusiva (em especial, o uso de “@”, “x” e “e” nas palavras e sentenças) no português brasileiro, com vistas a uma definição coesa de sua natureza, discutindo, para tanto, as correlações entre língua, sociedade e identidade(s). Fundamentamo-nos na visão de língua heterogênea (LABOV, 2008[1972]), constatando que a maneira como os indivíduos percebem a língua e as atitudes que os usuários têm frente ao uso linguístico de outra pessoa podem interferir no percurso dessa língua e que essas percepções podem levar os sujeitos a propagarem discursos preconceituosos, conscientemente ou não. O estudo realizado é de caráter qualitativo (GONSALVES, 2001). Com base em investigações bibliográfica e documental, organizamos um córpus constituído de materiais que versam sobre linguagem inclusiva, oriundos das instâncias jornalística e virtual/digital, com o intuito de verificarmos posicionamentos acerca do tema. Como conclusão, evidenciamos que o debate sobre essas alternativas de adaptação da língua demarca uma afirmação de posicionamento político-ideológico e não, de fato, um problema linguístico. As arguições que se amparam na (hipotética) imutabilidade linguística ou mesmo na destruição da língua portuguesa servem apenas para validar discursos de ódio, discursos machistas e LGBTQIAPN+fóbicos.
Referências
ALKMIN, T. M. Sociolingüística - Parte I. In: MUSSALIM, F; BENTES, A. C. Introdução à
linguística - domínios e fronteiras. v. 1. São Paulo: Cortez, 2001. p. 22-47.
BAGNO, M. Me pediram exemplos, aqui vão alguns. Brasília, 26 de set. 2020. Facebook:
araujobagno. Disponível em:
https://ptbr.facebook.com/araujobagno/posts/3437668349660877?__tn__=H-R. Acesso
em: 18 mai. 2023.
BAGNO, M. Dicionário crítico de sociolinguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2017.
BORBA, R. Falantxs transviadxs: linguística queer e performatividades monstruosas.
Cadernos de Linguagem e Sociedade, v. 21, n. 2, p. 389-409, 2020.
BORBA, R. Peles trans, máscaras cis: transfobia, patologização e táticas de resistência.
In.: LOPES, A. C.; FACINA, A.; SILVA, D. N. (org.), Nó em pingo d’água: sobrevivência,
cultura e linguagem. Rio de Janeiro e Florianópolis: Mórula Editorial e Editora Insular,
p. 171-205.
BORBA, R.; LOPES, A. Escrituras de gênero e políticas de différance: imundície verbal e
letramentos de intervenção no cotidiano escolar. Linguagem & Ensino, Pelotas, v. 21, n.
esp., p. 241-285, 2018.
BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro:
Ed. Civilização Brasileira, 2003.
BUTLER, J. Excitable Speech: A Politics of the Performative. Nova York: Routledge, 1997.
CAMERON, D. Feminism and linguistic theory. London: Palgrave, 1992.
CALDAS-COULTHARD, C. R. Caro Colega: exclusão linguística e invisibilidade. Discurso y
Sociedad, v. 1, n. 2, p. 230-246, 2007.
ESPINDOLA, C. B. Movimentos sociais em movimento: o ativismo LGBT das margens às
redes. In: Anais do 4° Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, Edição
8 a 10 de novembro de 2017 - Santa Maria / RS. UFSM - Universidade Federal de
Santa Maria. Disponível em: http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2017/3-2.pdf.
Acesso em: 30 jun. 2020.
FACCHINI, R. Movimento homossexual no Brasil: recompondo um histórico. Cad. AEL,
v.10, n.18/19, 2003. Disponível em: file:///D:/Downloads/2510-Texto%20do%20artigo-6764-
-10-20161122.pdf. Acesso em: 24 mai. 2023.
FARACO, C. A. Linguística histórica: uma introdução ao estudo da história das línguas.
São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
FREITAG, R. M. K. Não existe linguagem neutra! Gênero na sociedade e na gramática do
português brasileiro. São Paulo: Editora Contexto, 2024.
FREITAG, R. M. K.; SCHWINDT, L. C.; RABELO, A. P. Língua, gramática, gênero e inclusão.
Abralin ao Vivo - Linguists Online. 14 jul. 2020. 1 vídeo (2:50:05). [Live]. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=_AdQFP3ssAY. Acesso em: 12 jul. 2024.
GONSALVES, E. P. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 3. ed. Campinas:
Alínea, 2001.
KILOMBA, G. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro:
Editora Cobogó, 2019.
LABOV, W. Padrões sociolinguísticos. Trad. de Marcos Bagno, Maria Marta Pereira
Scherre e Caroline Rodrigues Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial, 2008[1972].
LAPERUTA-MARTINS, M. Projetos de impacto sobre a pesquisa em crenças e atitudes
linguísticas. In: RAZKY, A.; GUSMÃO, E. (org.). Pesquisas em crenças e atitudes
linguísticas. Araraquara: Ed. Letraria, p.197-227, 2019.
LIVIA, A.; HALL, K. “É uma menina!”: a volta de performatividade à linguística. In:
OSTERMANN, A. C.; FONTANA, B. (org.). Linguagem, gênero, sexualidade: clássicos
traduzidos. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 109-127.
MELLO, A. G. Deficiência, incapacidade e vulnerabilidade: do capacitismo ou a
preeminência capacitista e biomédica do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC. Editora
ABRASCO Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, n. 10, p. 3265-
, 2016.
MORENO FERNÁNDEZ, F. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje.
Barcelona: Ariel, 1998.
OUSHIRO, L. Conceitos de identidade e métodos para seu estudo na sociolinguística.
Estudos Linguísticos e Literários, n. 63, p. 304-325, 2019.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.